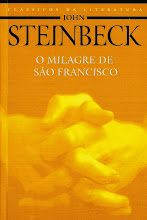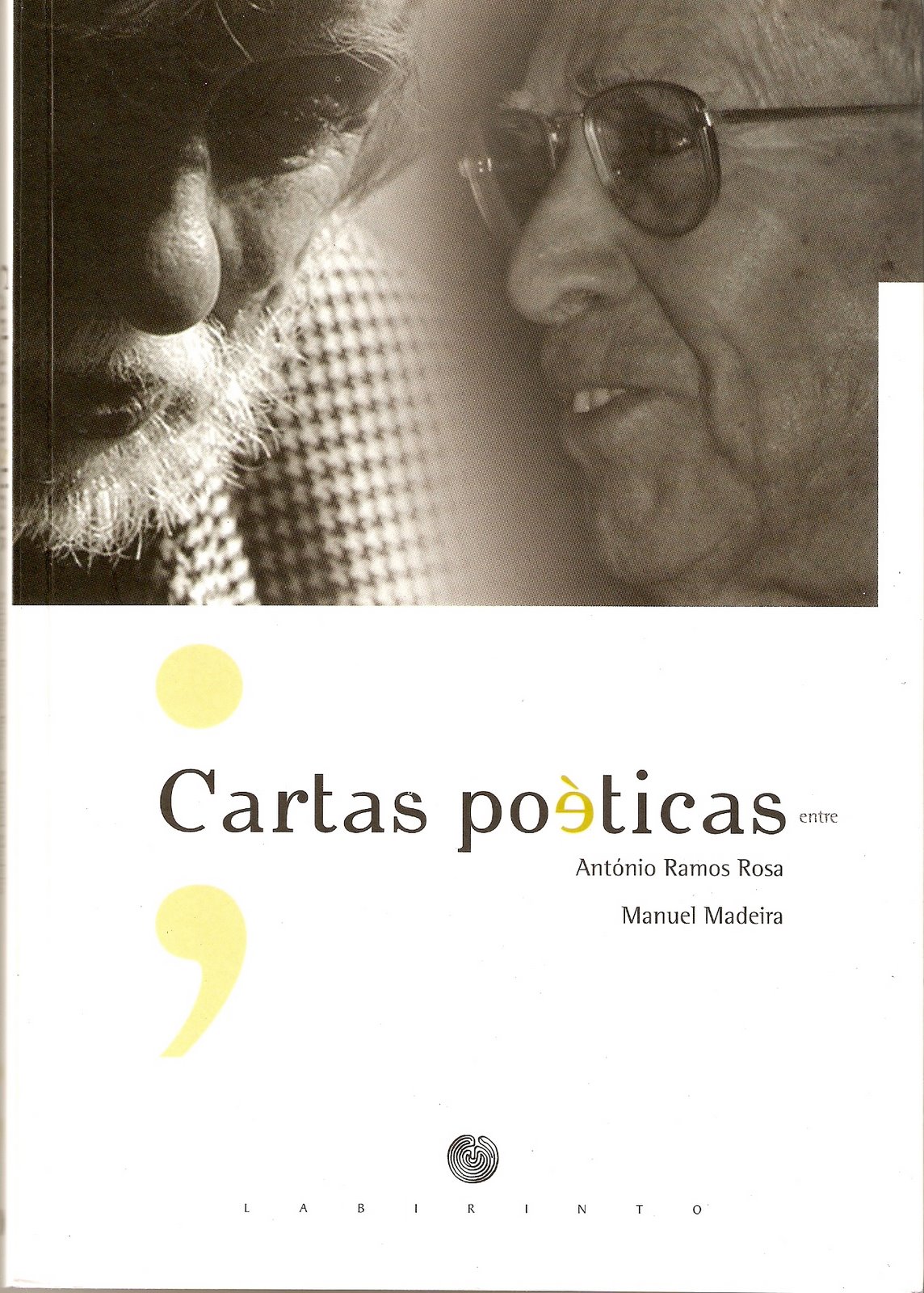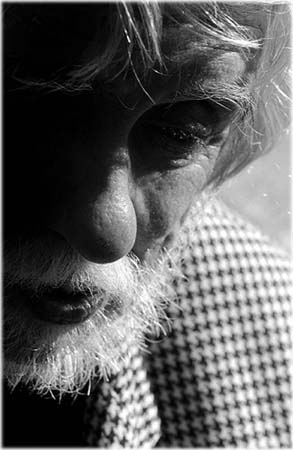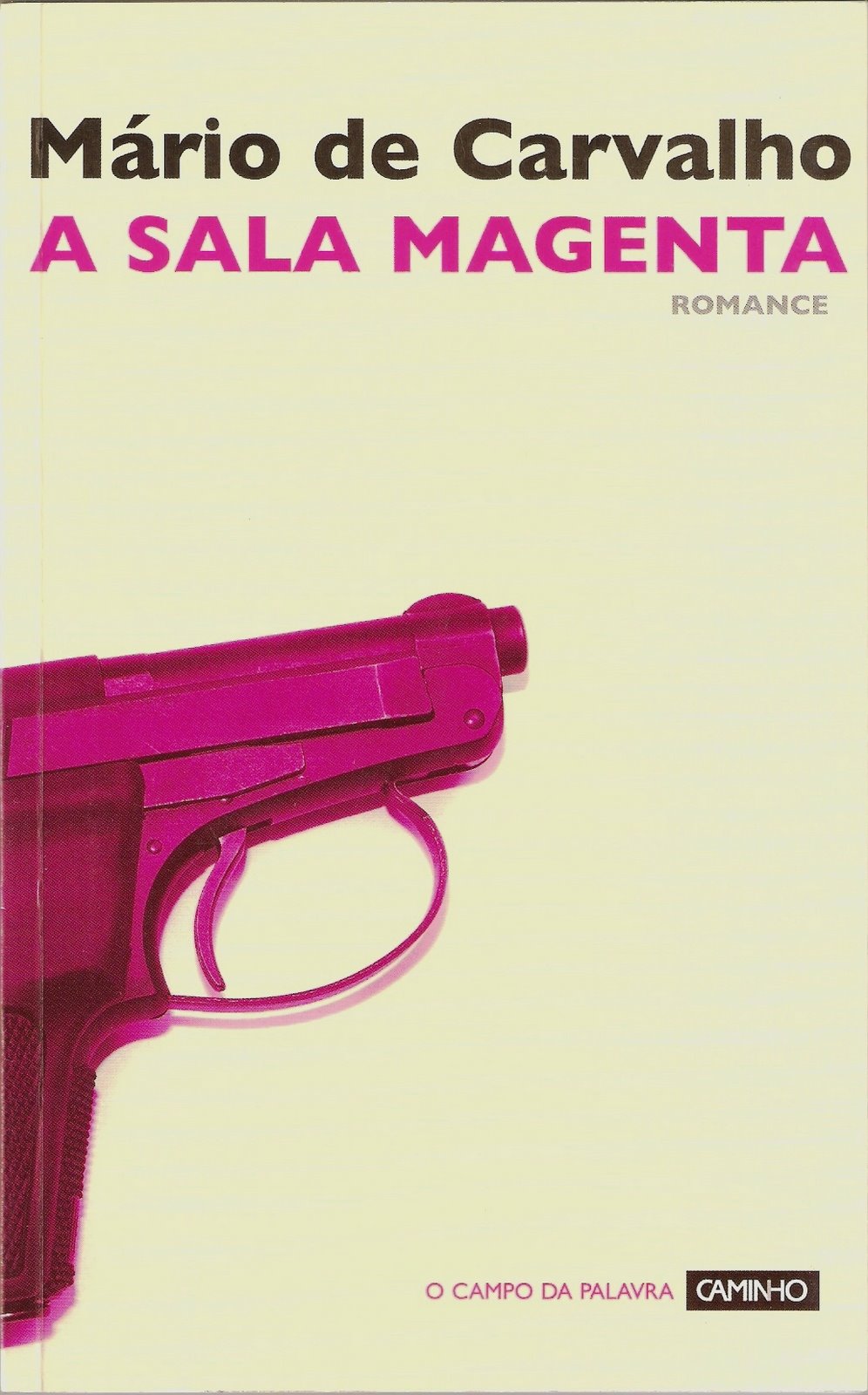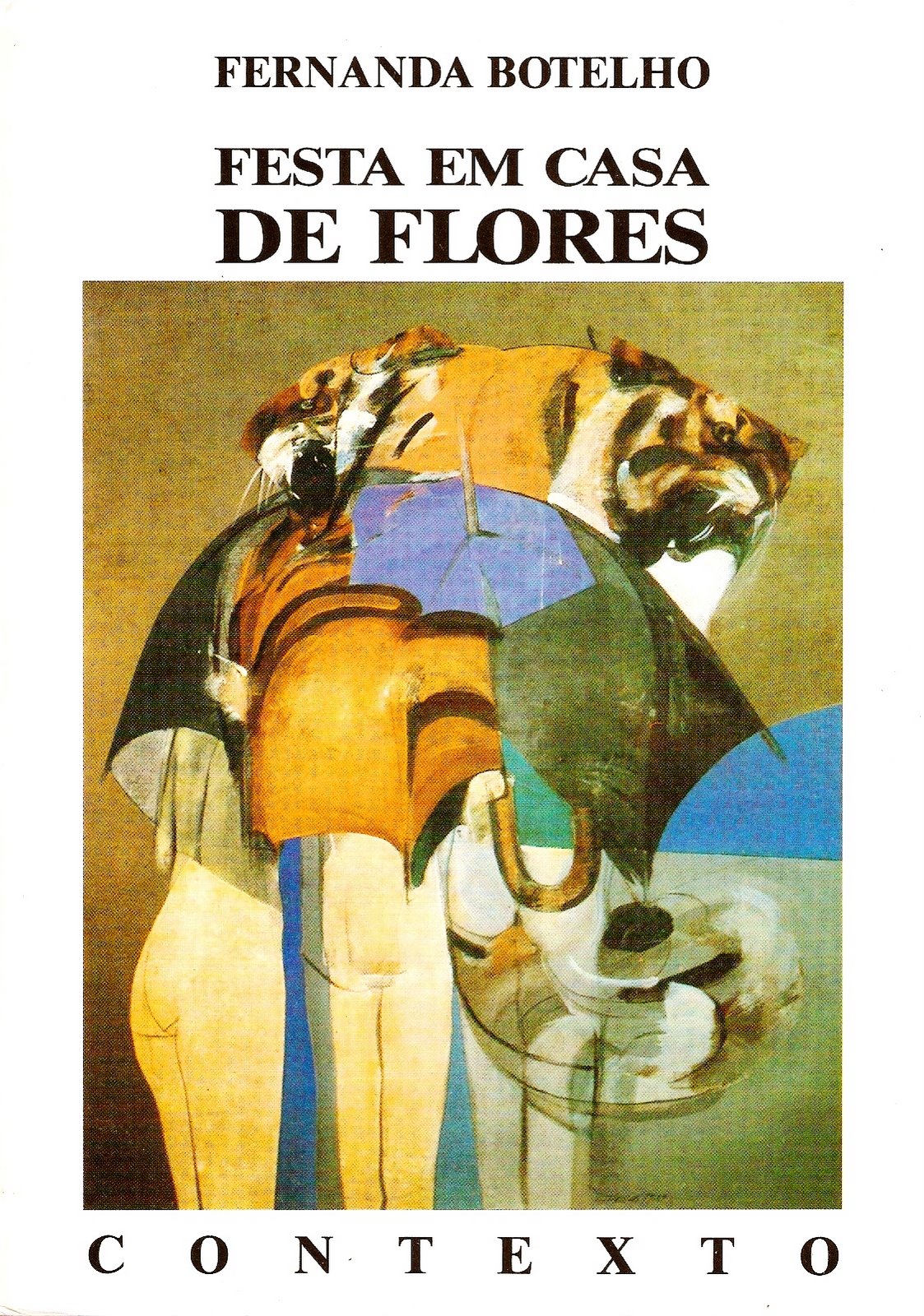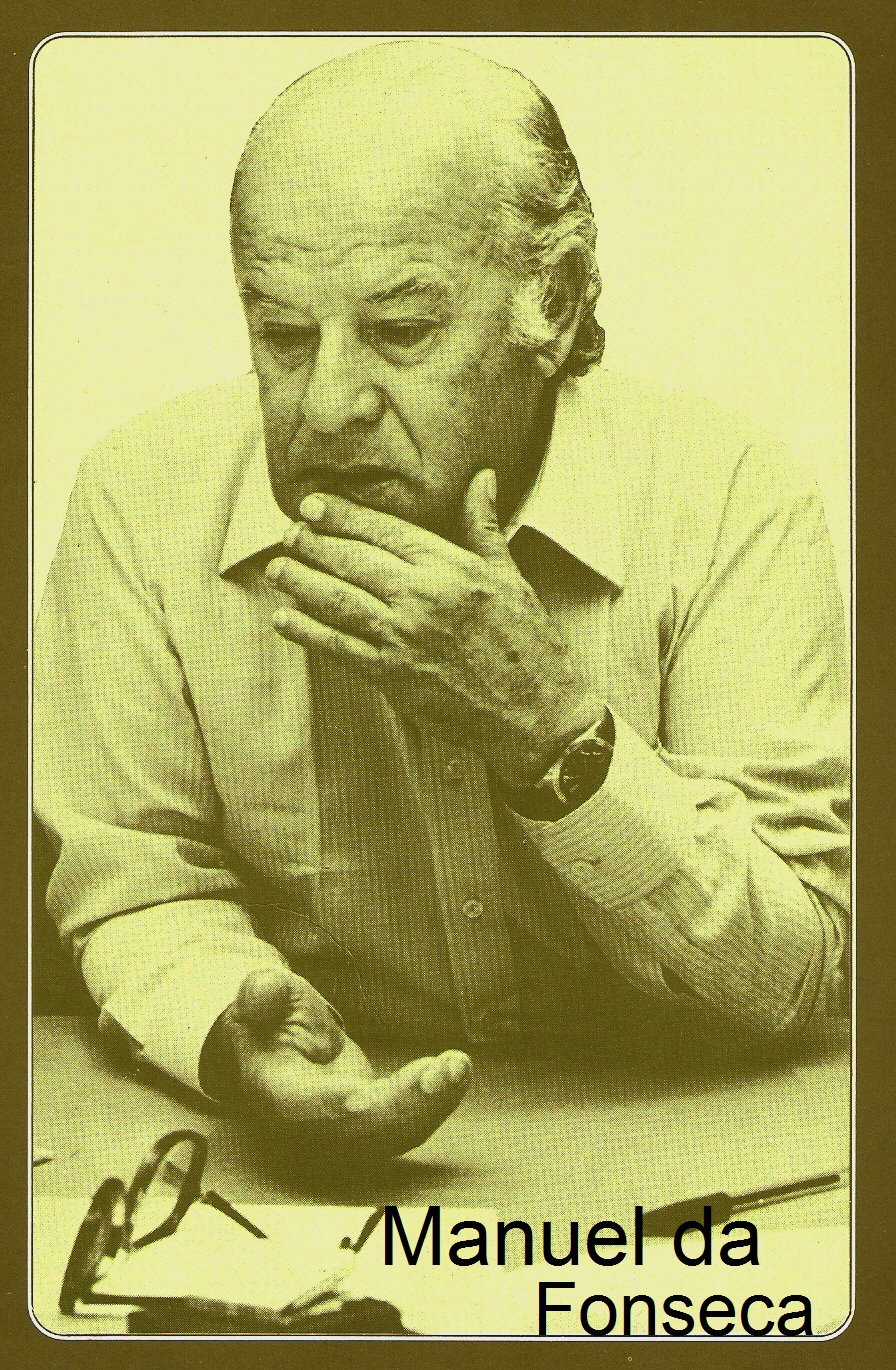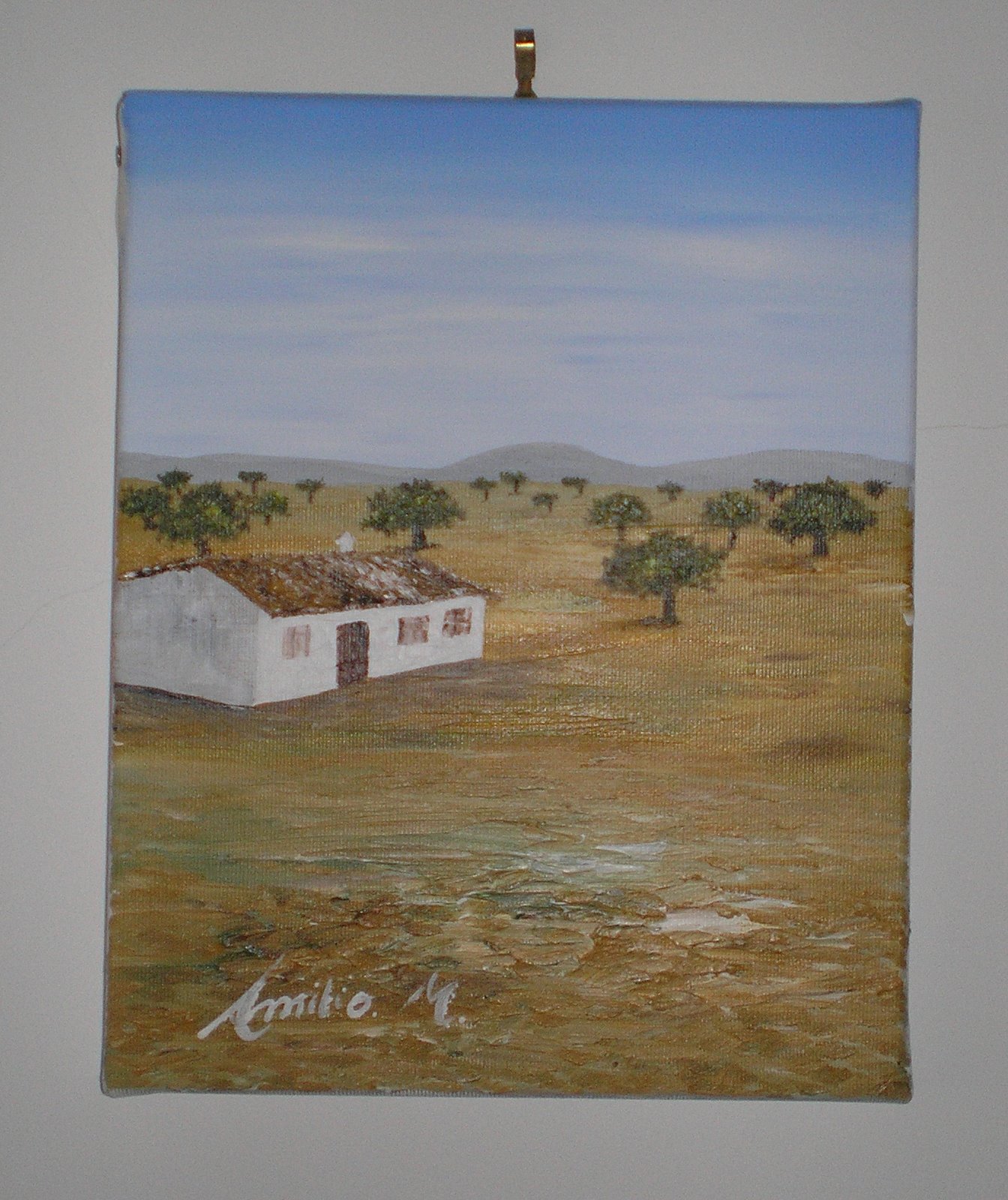Escritora norte-americana, Pearl Sydenstricker Buck nasceu a 26 de Junho de 1892 (Faz hoje 116 anos), em Hillsboro, no estado da Virgínia Ocidental. Filha de um missionário protestante, passou a infância na China, onde se situa a acção de grande parte das suas obras.
Em 1931, publica The Good Earth (Terra Bendita) e ganha o Prémio Pulitzer. Em 1938, tornou-se a primeira mulher norte-americana a ser galardoada com o Prémio Nobel.
Desiludida quanto à possibilidade de cooperação entre os povos, empenhou-se na luta pelos direitos das crianças asiáticas, muitas delas abandonadas e estigmatizadas por serem fruto de relações entre ocidentais e asiáticas.
Faleceu a 6 de Março de 1973, em Danby, no estado do Vermont.

[…]
E dirigindo-se ao palanquim que os homens haviam deposto no chão, levantou a cortina e, fazendo estalar a língua, disse:
- Sai, minha Flor de Lotus, aqui está a tua casa e o teu senhor.
Wang Lung estava num suplício, porque via no rosto dos carregadores sorrisos irónicos, e pensou:
- Ora! Estes sujeitos são uns vadios da cidade, gente desprezível e sem cotação.
Indignou-se consigo mesmo por sentir a cara vermelha e escaldante e por isso resolveu calar-se.
Então a cortina levantou-se e Wang Lung viu, sentada no interior da cadeirinha, pintada e fresca como um lírio, a jovem Lotus. Esqueceu tudo, até mesmo a sua cólera contra os maliciosos vadios da cidade, tudo menos que a tinha comprado para si e que ela vinha viver com ele para sempre. Ficou entorpecido, mas trémulo, vendo-a erguer-se, grácil como uma flor que ondula ao sopro do zéfiro. Depois, como ele a fitava absorto, Lotus tomou a mão de Cuckoo e desceu do palanquim, de cabeça inclinada e olhos baixos, caminhando a passos incertos e vacilantes, apoiada ao braço de Cuckoo. Passou diante dele sem lhe dizer palavra e perguntou a Cuckoo, com uma voz langorosa:
- Onde é o meu quarto?
Então a mulher do seu tio veio ampará-la do outro lado, e ambas a conduziram pelo pátio para os novos quartos que Wang Lung mandara construir.
Mas ninguém da casa de Wang Lung a viu passar, porque ele mandara os criados e Ching trabalhar naquele dia para um campo afastado. O-lan tinha saído com os dois gémeos sem dizer para onde ia, os dois rapazes estavam na escola, o velho dormia encostado à parede sem ver e sem ouvir nada, e a tolinha não percebia quem entrava ou saía e só conhecia os rostos do pai e da mãe. Logo que Lotus entrou no quarto, Cuckoo cerrou as cortinas sobre ela.
Após alguns momentos, a mulher do tio de Wang Lung voltou, com um malicioso, esfregando as mãos, como se quisesse sacudir alguma coisa.
- Esta mulher pintada e perfumada – disse ela rindo – tresanda como se fosse uma coisa ruim. – Depois acrescentou com maior malícia: - Não é tão nova como aparenta, meu sobrinho! Estou mesmo em dizer que, se não estivesse à beira da idade em que os homens deixarão de olhar para ela, nem brincos de jade, nem anéis de ouro, nem vestidos de cetim e seda a teriam decidido a vir para casa de um lavrador, mesmo que fosse um lavrador rico.
Mas vendo que Wang Lung se indignara ao ouvir linguagem tão franca, apressou-se a acrescentar:
- Lá bonita é ela. Nunca vi outra mais bela e será deliciosa para ti como o arroz das oito pedras preciosas que servem nos banquetes, depois dos anos que passaste com a ossuda escrava da Casa de Hwang.
Wang Lung não respondeu. Passeava, de um lado para o outro, pela casa, apurando o ouvido sem poder estar tranquilo. Por fim, não se conteve: levantou a cortina vermelha, atravessou o pátio que mandara construir para Lotus, e entrou na penumbra do quarto onde ela estava. Ficou junto dela todo o dia, até à noite.
Durante todo esse tempo, O-lan conservou-se fora de casa. De madrugada, pegou numa enxada, chamou os filhos e saiu levando um pouco de comida fria, enrolada numa folha de couve; mas ainda não tinha regressado. Ao cair da noite, entrou em casa silenciosa, suja de terra e cansada, seguida pelos filhos, calados. Sem dizer palavra, foi para a cozinha, preparou a ceia e pô-la sobre a mesa como de costume, chamou o velho, meteu-lhe na mão os pauzinhos, deu de comer à tolinha e comeu alguma coisa com os filhos. Depois de deitar as crianças, como Wang Lung continuava sentado à mesa, a sonhar, levantou-se para se deitar e foi para o quarto, onde dormiu sozinha na sua cama.
Então, Wang Lung pôde saciar, noite e dia, o seu amor. […]
+2006.jpg)





.jpg)







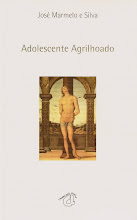






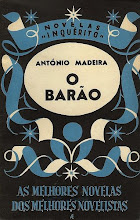




















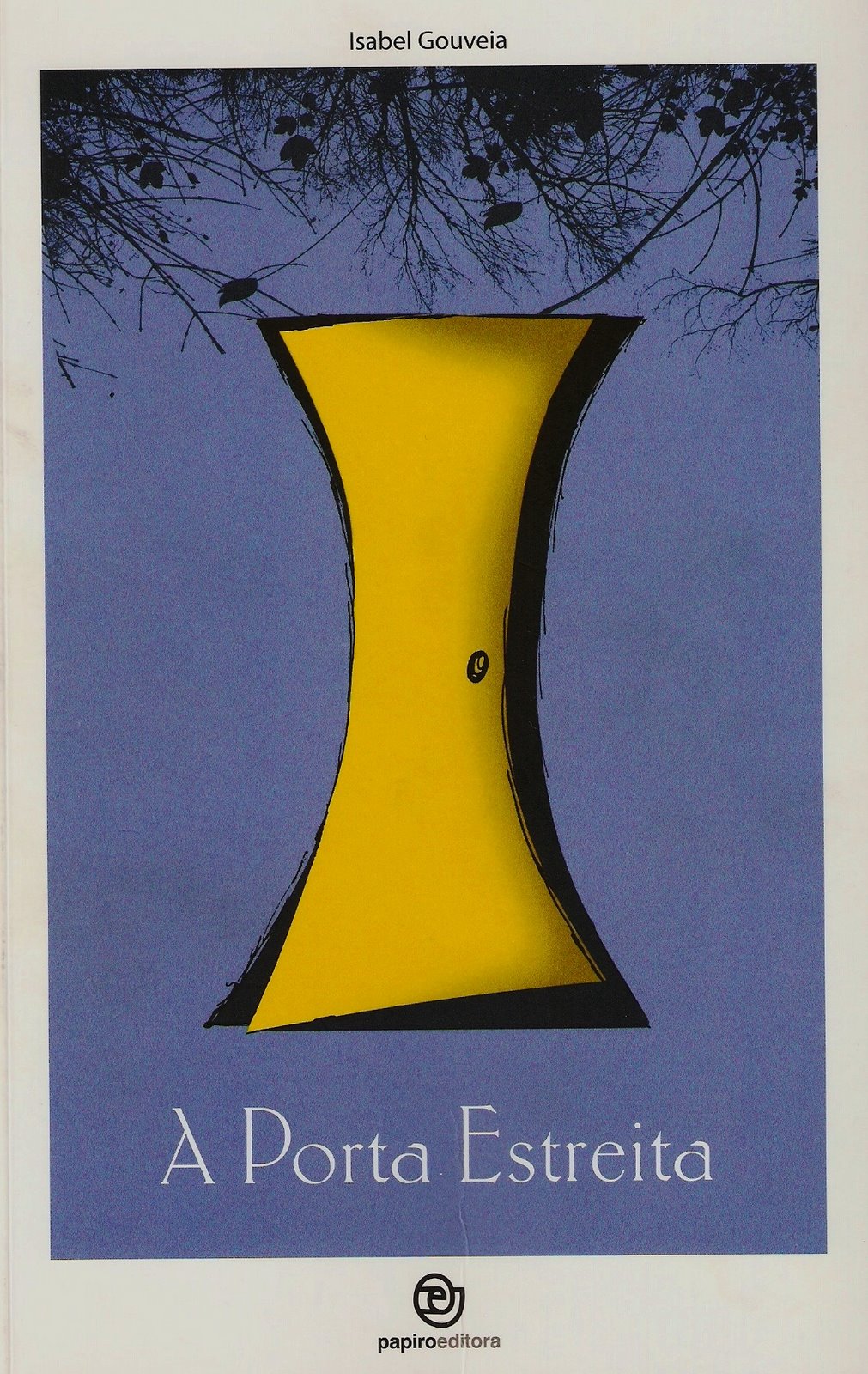





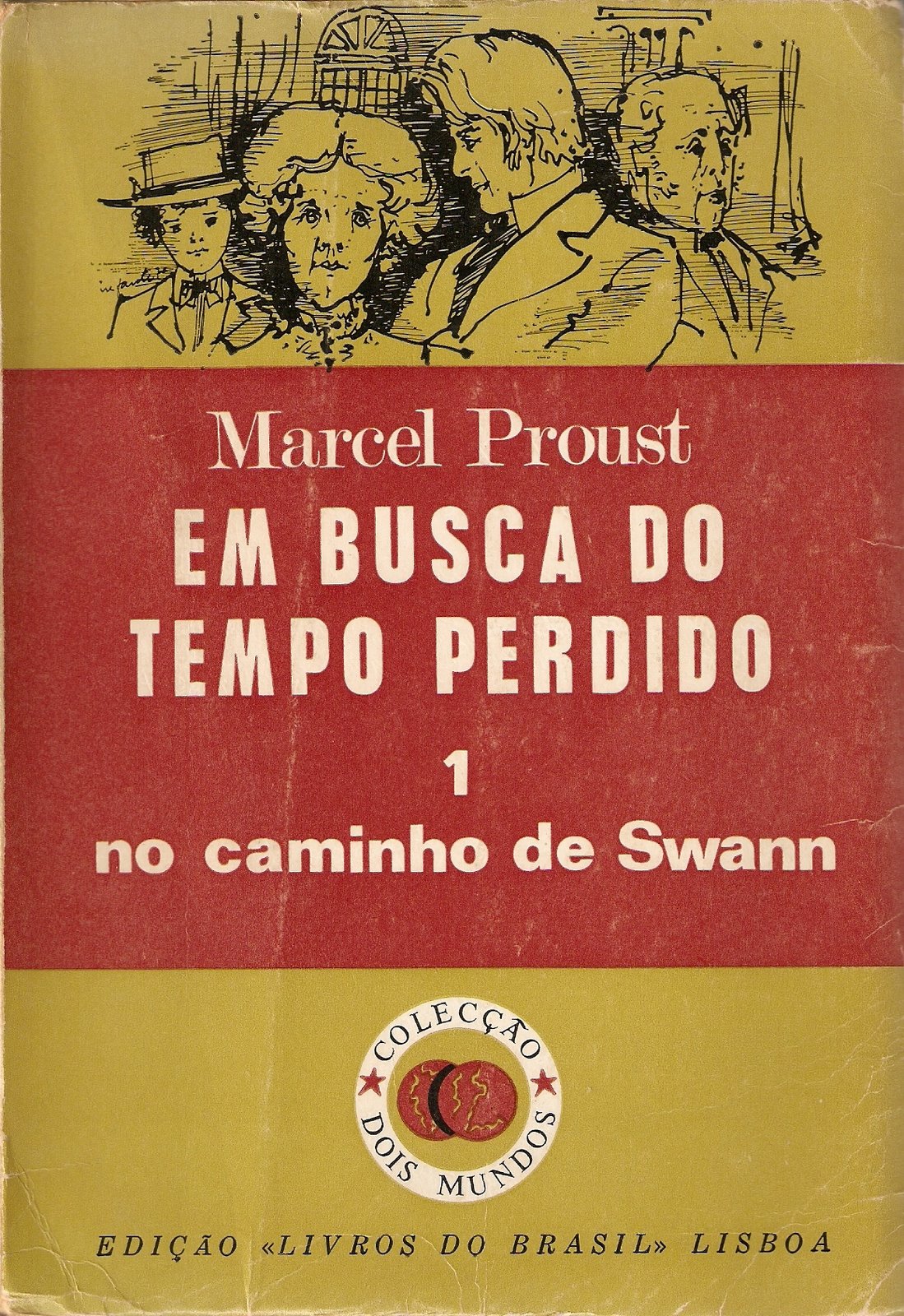


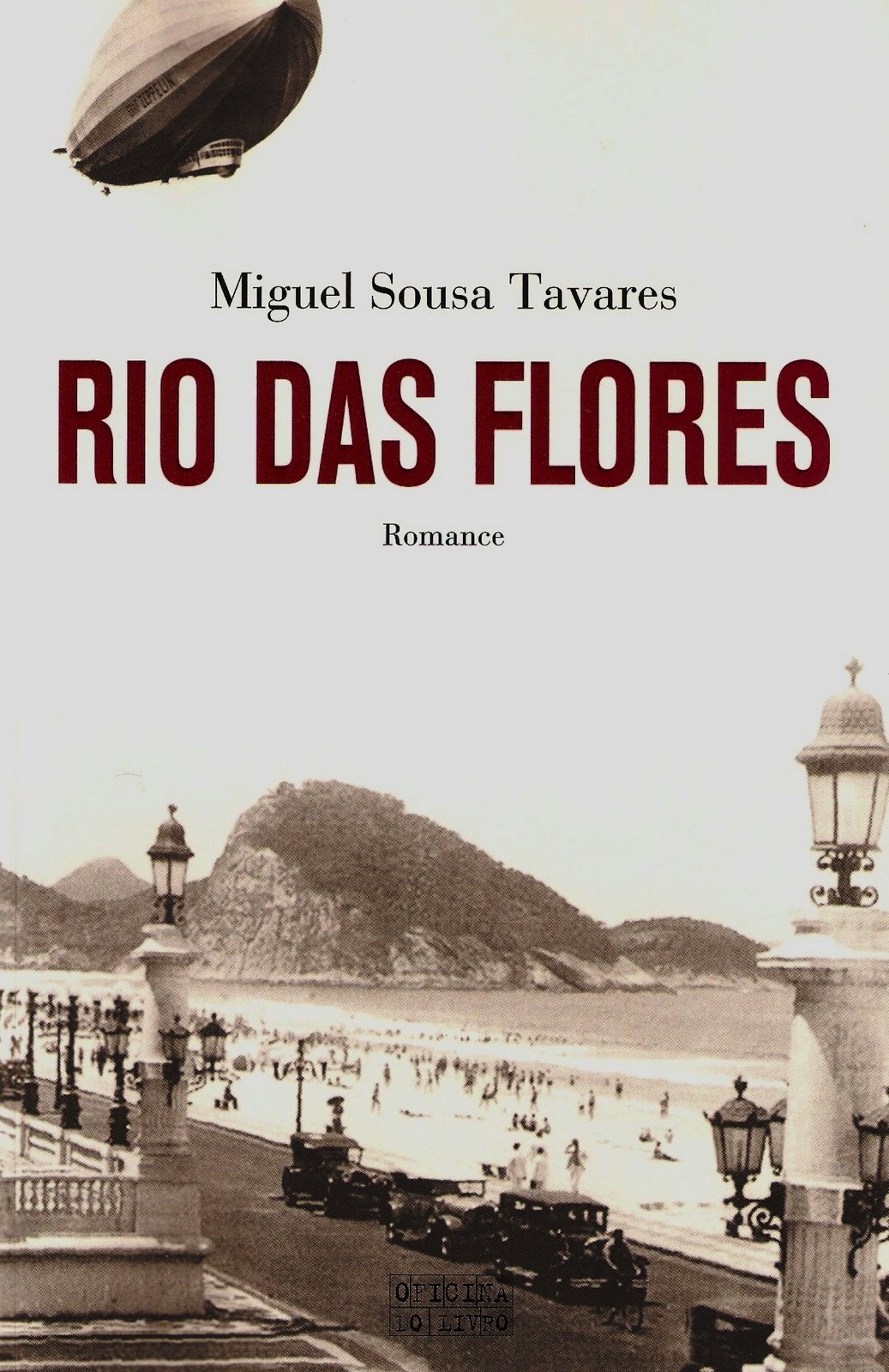


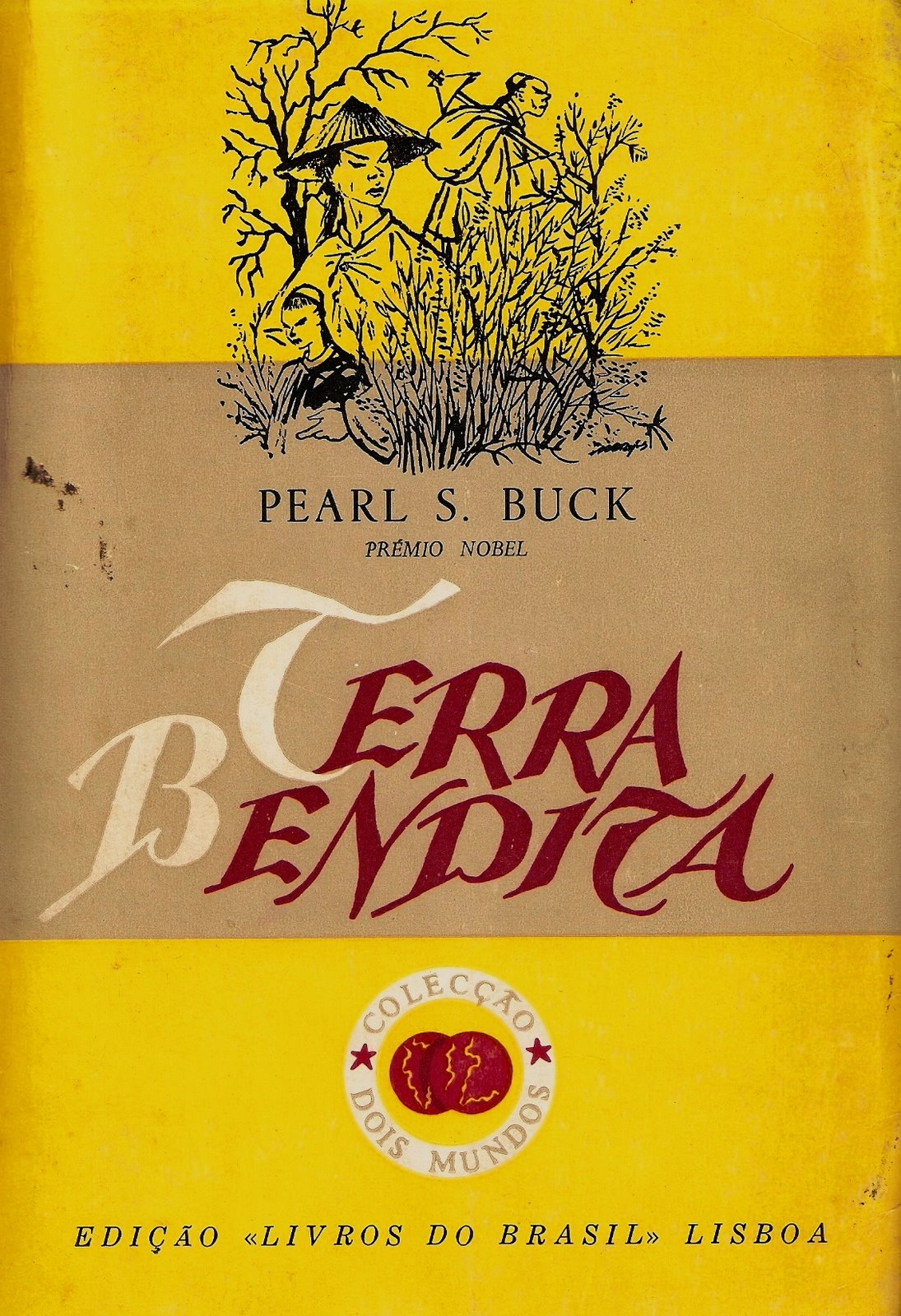
+2006.jpg)


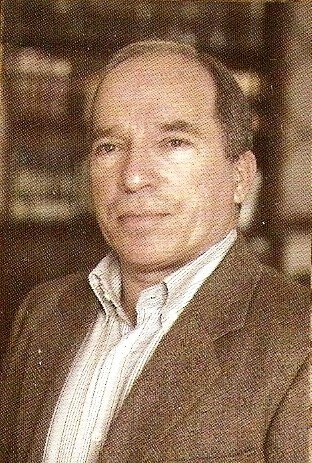

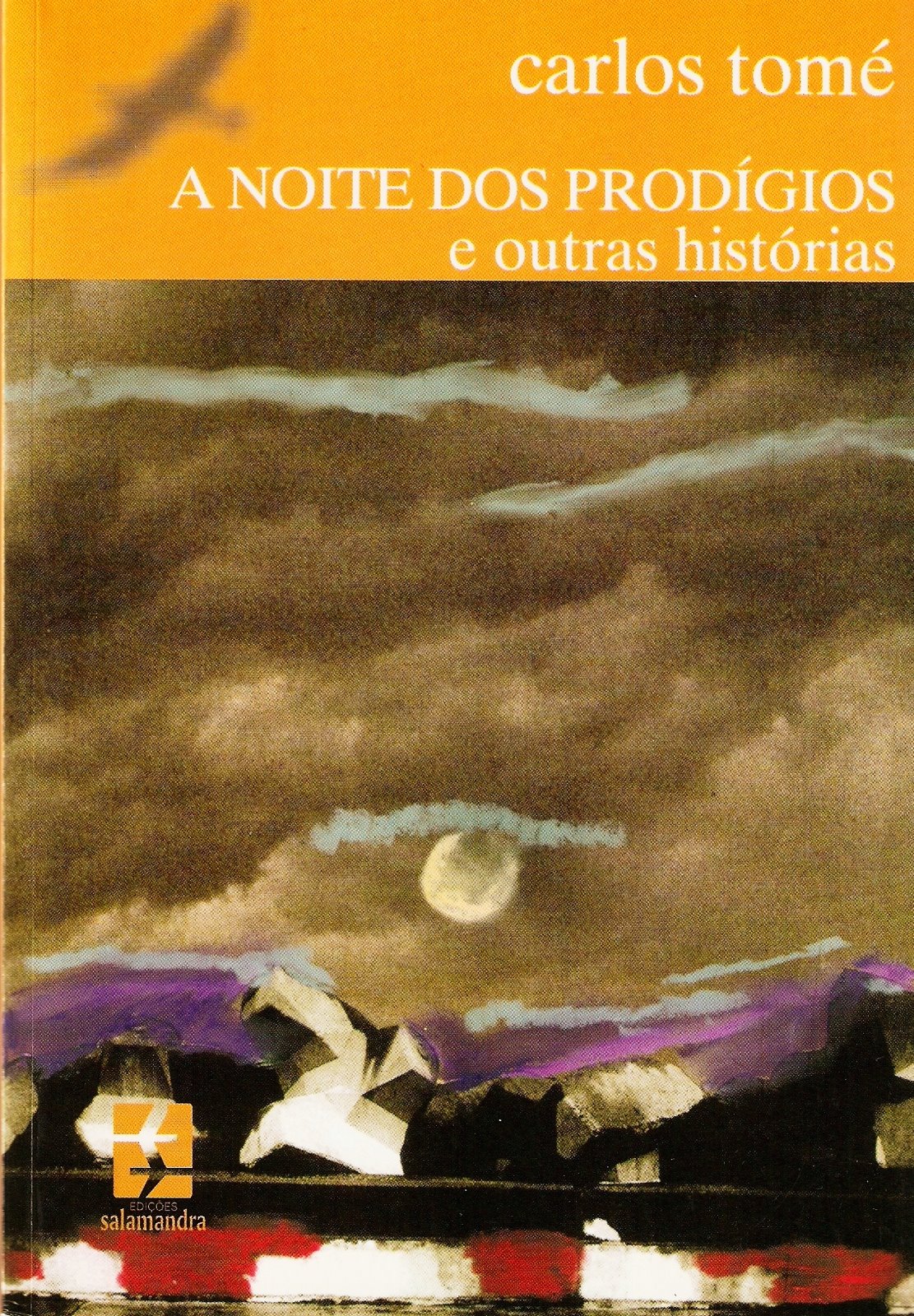


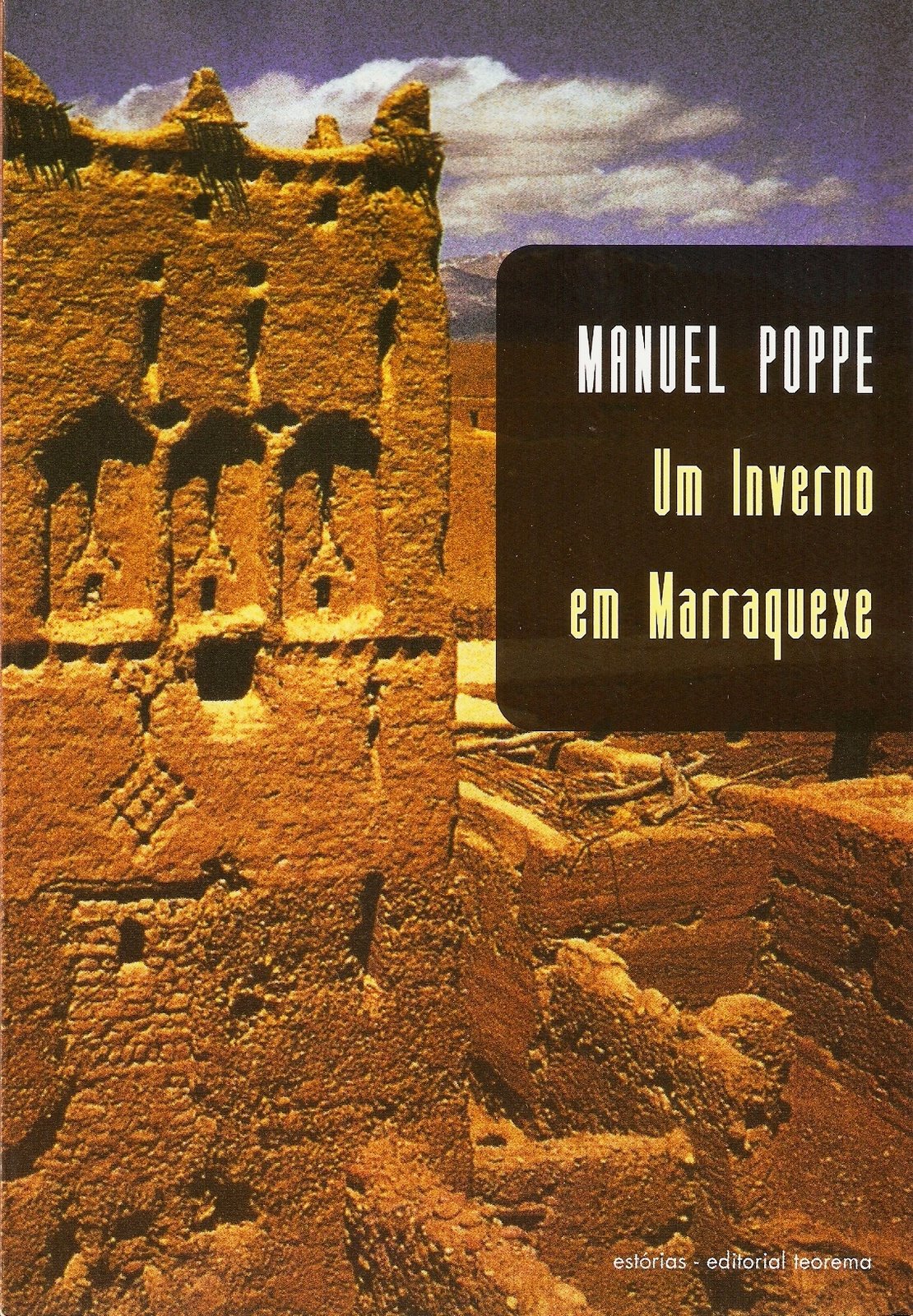

.jpg)