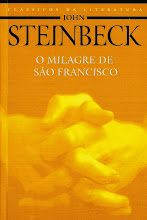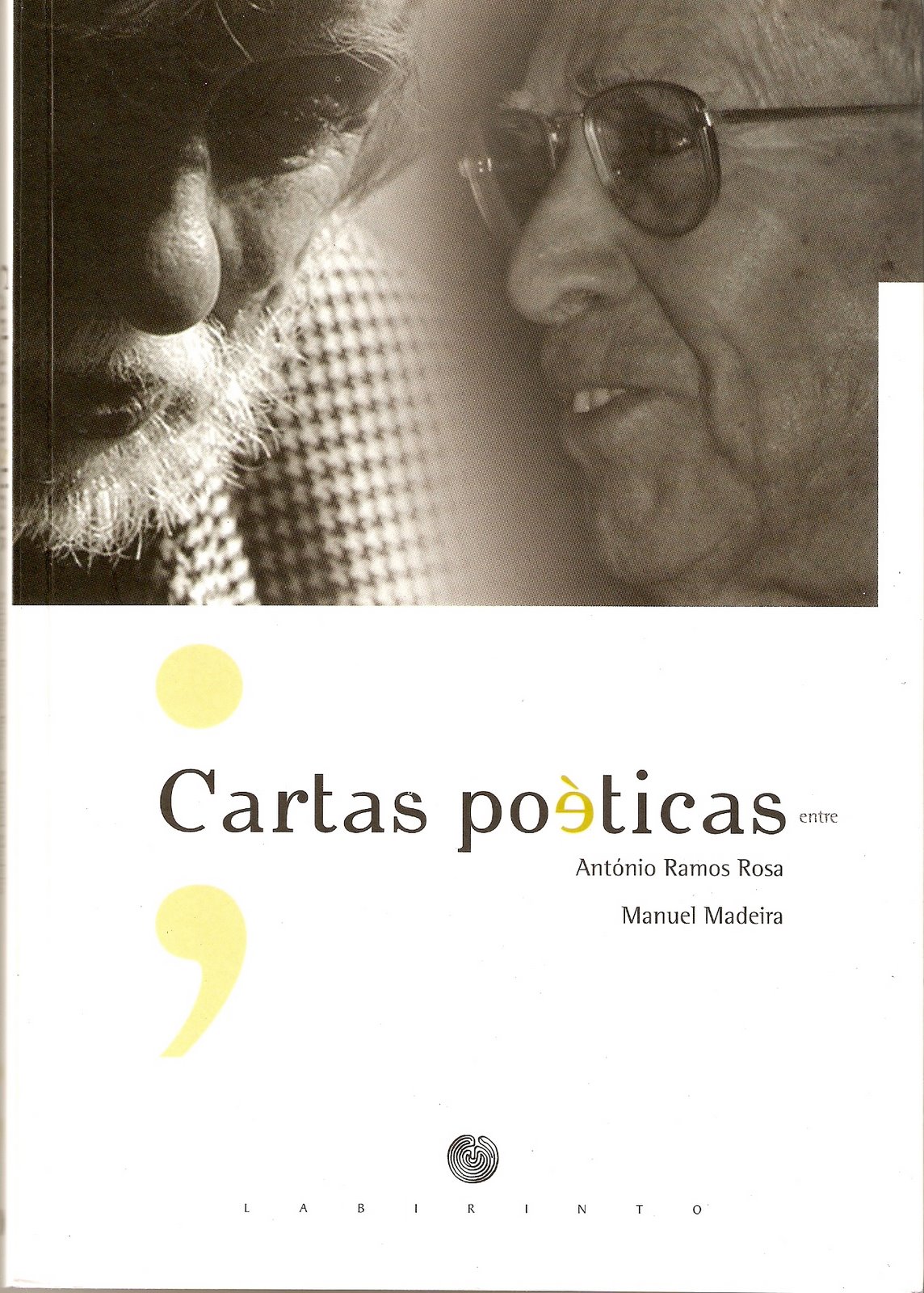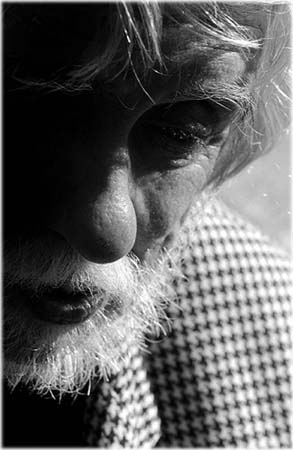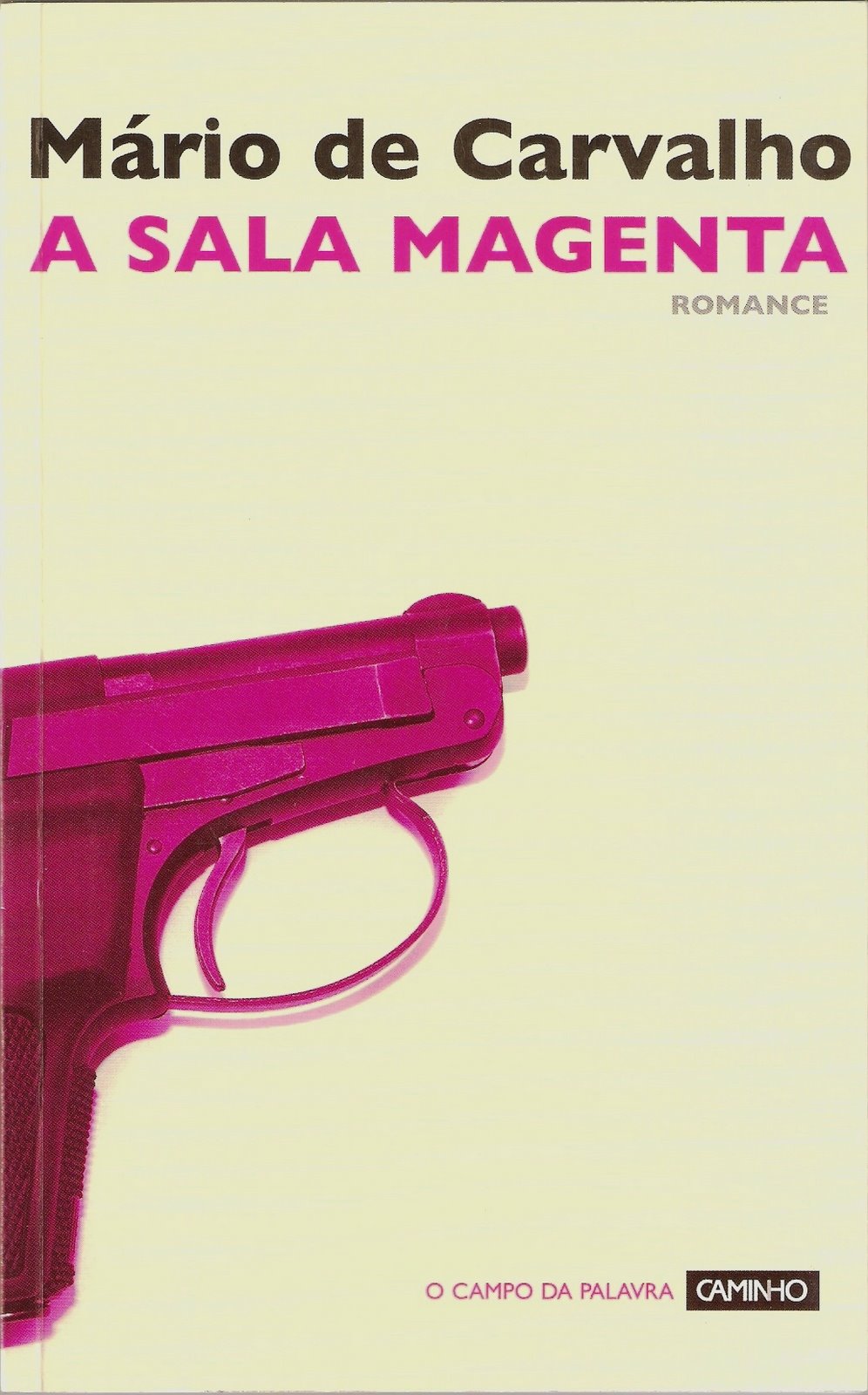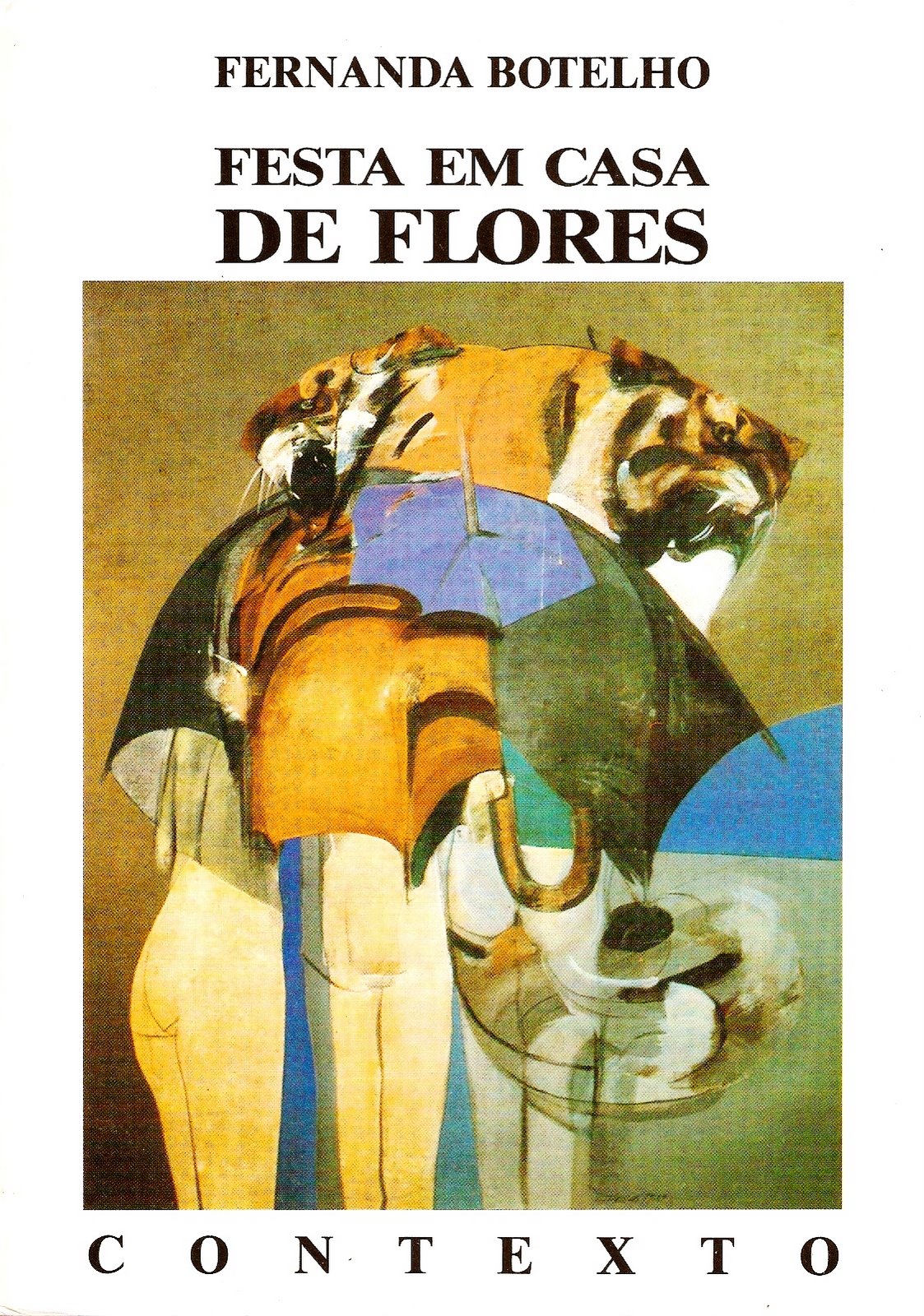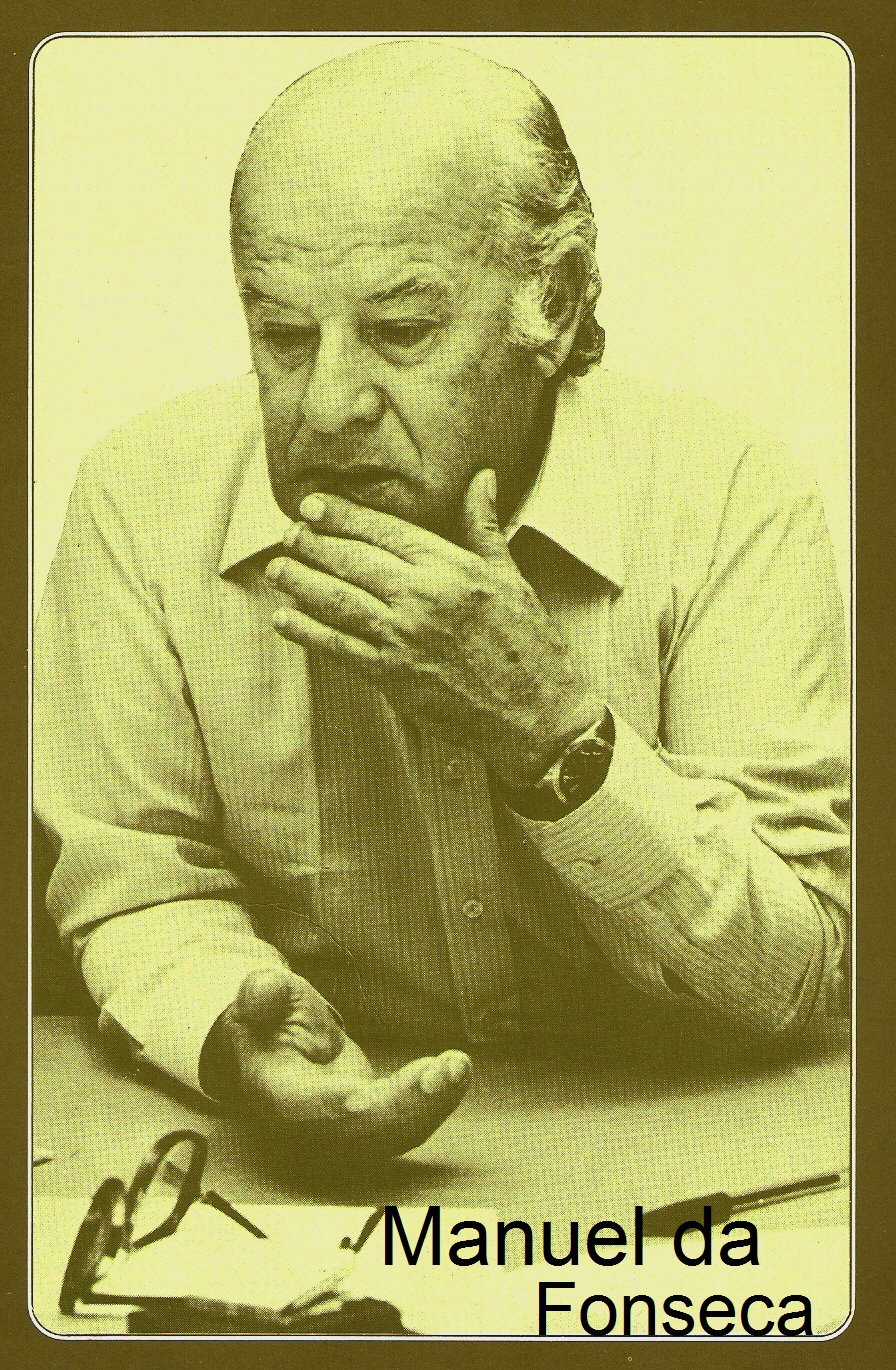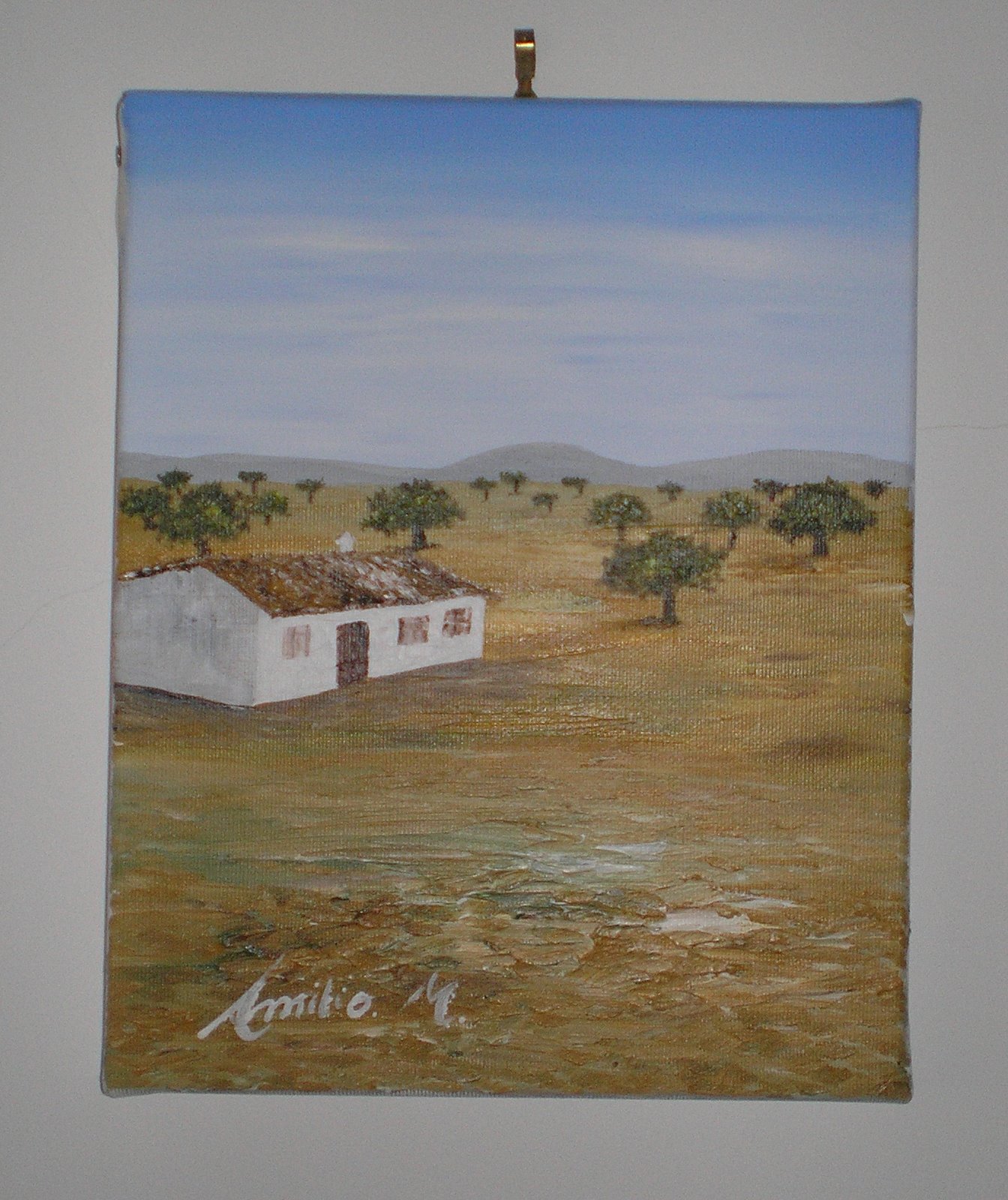[...]
Acabo de ter um encontro. Oh! um encontro bem pouco surpreendente, afinal. No estado em que me acho, o menor acontecimento perde as suas proporções exactas, como uma paisagem no nevoeiro. Numa palavra, creio ter encontrado um amigo. Senti a revelação da amizade.
Esta confissão surpreenderia muitos dos meus antigos colegas, pois todos me julgam bastante fiel a certas simpatias da mocidade. A minha memória das datas, a exactidão com que me lembro dos aniversários das ordenações, por exemplo, é célebre. Até troçam disso. Tudo, porém, não passa de simpatia. Compreendo, agora, que a amizade pode irromper entre dois seres, com este carácter de arrebatamento, de violência, que as pessoas do mundo só reconhecem na revelação do amor.
Ia, pois, para Mézargues quando ouvi, atrás de mim, porém muito distante, um toque de sirene, esse rumor que aumenta e decresce, alternadamente, segundo os caprichos do vento ou as sinuosidades do caminho. De há alguns dias para cá, esta sirene é familiar a todos, já ninguém levanta a cabeça quando a ouve. Dizem apenas: é a motocicleta do senhor Olivier. Uma máquina alemã, extraordinária, que dá a ideia de uma pequena locomotiva reluzente. O senhor Olivier, na realidade, chama-se Treville-Sommerange; é sobrinho da condessa. Os velhos que o conheceram, aqui, quando menino, contam muitas coisas sobre ele. Aos dezoito anos, foi preciso obrigá-lo a entrar para o exército. Era levado.
Detive-me no alto do barranco para descansar. O barulho do motor cessou, por alguns segundos (por causa, talvez, da grande curva de Dillonne), e logo reapareceu bruscamente. Era como um grito selvagem, imperioso, ameaçador, desesperado. Quase no mesmo instante, o alto do morro, à minha frente, coroou-se de uma espécie de feixe de chamas - o sol caía, a pique, sobre o aço polido da motocicleta. E já a máquina mergulhava no fundo do declive, com um potente ronco, e subia tão rapidamente que se tinha a impressão de haver dado um pulo. Saltei para o lado, a fim de a deixar passar; então, tive a sensação de que o meu coração era arrancado do peito. Foi preciso que se passasse um instante, para que eu compreendesse que o barulho havia cessado. Não ouvia mais do que o grito agudo dos freios, o ranger das rodas no chão. Depois, esse barulho também cessou. O silêncio pareceu-me ainda mais enorme do que o grito.
O senhor Olivier estava ali, diante de mim, com a sua blusa cinzenta de gola levantada até às orelhas, sem chapéu. Nunca o havia visto de tão perto. Tem um rosto calmo, tranquilo e uns olhos tão pálidos que não se pode dizer qual é realmente a sua cor. Olhava-me sorrindo.
- Quer subir, senhor vigário? - perguntou-me com uma voz - meu Deus! uma voz que imediatamente reconheci, doce e inflexível - a voz da condessa.
(Não sou bom fisionomista, como dizem, mas tenho a memória das vozes, não as esqueço nunca, amo-as. Um cego, a quem nada distrai, deve aprender muitas coisas, ouvindo vozes.)
- Por que não, meu senhor? - respondi.
Observámo-nos um ao outro, em silêncio. Li, no seu olhar, a surpresa e um pouco de ironia também. Ao lado daquela chamejante máquina, a minha batina era uma negra e triste mancha. Por que milagre me senti, então, jovem, tão jovem - ah! sim, tão jovem - como aquela triunfal manhã? Como num relâmpago, vi a minha triste adolescência - não como os afogados que, segundo dizem, revêem as suas vidas, antes de desaparecer, pois a impressão que sentia não era a de uma sucessão quase instantânea de quadros, não! Era como se tivesse diante de mim, uma pessoa, um ser (vivo ou morto, só Deus o sabe!). Mas eu não estava seguro de reconhecê-lo, não o reconheceria porque... - oh! isso vai parecer estranho - porque o estava vendo pela primeira vez, nunca o tinha visto antes... A minha adolescência passara, noutro tempo - como passam, junto de nós, tantos estranhos que poderiam vir a ser irmãos nossos, mas que se afastam e não voltam mais. Nunca fui jovem, porque nunca me atrevi a sê-lo. À minha volta, provavelmente, a vida seguia o seu curso; os meus camaradas conheciam, saboreavam esta ácida Primavera, enquanto eu me esforçava por não pensar nela, por me estontear de trabalho. Não me faltavam simpatias, é certo. Mas os melhores dos meus amigos deviam temer, ainda que contra a sua vontade, a marca que em mim havia deixado a infância, a experiência infantil da miséria, do seu opróbrio. Seria necessário que lhes abrisse o meu coração, mas o que importava dizer era, precisamente, o que eu queria manter escondido, a todo o custo... Meu Deus! isso me parece tão simples, agora! Nunca fui jovem, porque ninguém o quis ser comigo.
Sim, as coisas me pareceram subitamente simples. A lembrança da adolescência nunca mais se apartará de mim. O céu claro, o rubro nevoeiro crivado de ouro, as descidas da estrada ainda brancas de gelo, e esta máquina deslumbrante que arquejava docemente sobre o solo... Compreendi que a juventude é uma idade bendita - que é um risco a correr - mas que o próprio risco é abençoado. E, por um pressentimento que não sei explicar, compreendia também, sabia que Deus não queria que eu morresse sem conhecer qualquer coisa desse risco - exactamente o bastante, talvez, para que o meu sacrifício fosse total, quando chegasse o momento... Conheci esse pobre e fugaz minuto de glória.
Falar assim, a propósito de um encontro tão banal deve parecer bem tolo, sei disso. Que importa! Para não ser ridículo na felicidade, é preciso conhecê-la desde os primeiros anos, quando ainda não se pode nem sequer balbuciar o seu nome. Nunca mais terei, nem por um segundo, esta firmeza, este garbo. A felicidade! Uma espécie de altivez, de alegria, uma esperança absurda, puramente carnal, a forma carnal da esperança: creio que é a isso que se chama felicidade. Enfim, sentia-me jovem, realmente jovem, diante deste companheiro tão jovem como eu. Ambos éramos jovens.

[...] Eu continuava no mesmo estado de distracção, de ausência. Por mais que me esforce, nunca chegarei a compreender por que espantoso prodígio, pude, em tais circunstâncias, esquecer até o nome de Deus. Estava só, inexprimivelmente só, diante da morte, e esta morte era apenas a privação do ser, nada mais. O mundo visível parecia desprender-se de mim com uma velocidade espantosa e numa desordem de imagens, não fúnebres, mas, ao contrário, totalmente luminosas, deslumbrantes. É possível? Será que o amei tanto? Essas manhãs, essas tardes, esses caminhos? Caminhos cambiantes, misteriosos, caminhos cheios dos passos dos homens. Será que amei tanto os caminhos, nossos caminhos, os caminhos do mundo? Que menino pobre, crescido no pó dessas estradas, não lhes teria confiado seus sonhos? Levai-nos lentamente, majestosamente, para não sei que mares desconhecidos, ó grandes rios de luz e de sombra que conduzis os sonhos dos pobres! Creio que foi a palavra - Mézargues - que feriu, desse modo, meu coração. Meu pensamento parecia muito longe do senhor Olivier, do nosso passeio e não havia tal, entretanto. Não tirava os olhos do rosto do doutor e, subitamente, ele desapareceu. Não compreendi, logo, que estava chorando.
Sim, eu estava chorando. Chorava sem um soluço, penso que sem um suspiro sequer. Chorava com os olhos abertos, como vi tantas vezes chorarem os muribundos. Era a vida que saía de mim. Enxuguei os olhos com as mangas da batina; distingui, novamente, o rosto do doutor Laville. Tinha uma expressão indefinível de surpresa, de compaixão. Se alguém pudesse morrer de desgosto, eu teria morrido. Deveria ter fugido e não tive coragem. Esperava que Deus me inspirasse uma palavra, uma palavra de sacerdote; teria pago essa palavra com a minha vida, com o que me restava de vida. Quis, ao menos, pedir-lhe perdão; só pude balbuciar a palavra, as lágrimas sufocavam-me. Sentia-as correr pela garganta: tinham o gosto do sangue. Quanto daria para que fossem mesmo de sangue! Donde vinham essas lágrimas? Quem poderia dizê-lo? Não era por mim mesmo que chorava, juro-o! Nunca tinha estado tão perto do ódio a mim mesmo. Não chorava pela minha morte. Na minha infância, acontecia-me despertar assim, soluçando. De que sonho acabava agora de despertar? Oh! pensei ter atravessado o mundo, quase sem o ver, como quem caminha de olhos baixos, entre a multidão. Cheguei a pensar que desprezava o mundo. Mas, então, era de mim que me envergonhava, não dele. Era como um pobre homem que ama sem ter coragem de o dizer, que não tem coragem nem de confessar a si mesmo que ama. Oh! não nego que essas lágrimas poderiam ser lágrimas de fraqueza. Mas eram, também, lágrimas de amor...
Georges Bernanos, Diário de um Pároco de Aldeia
 […]
[…]











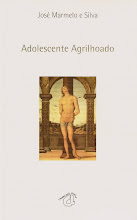






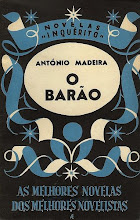




















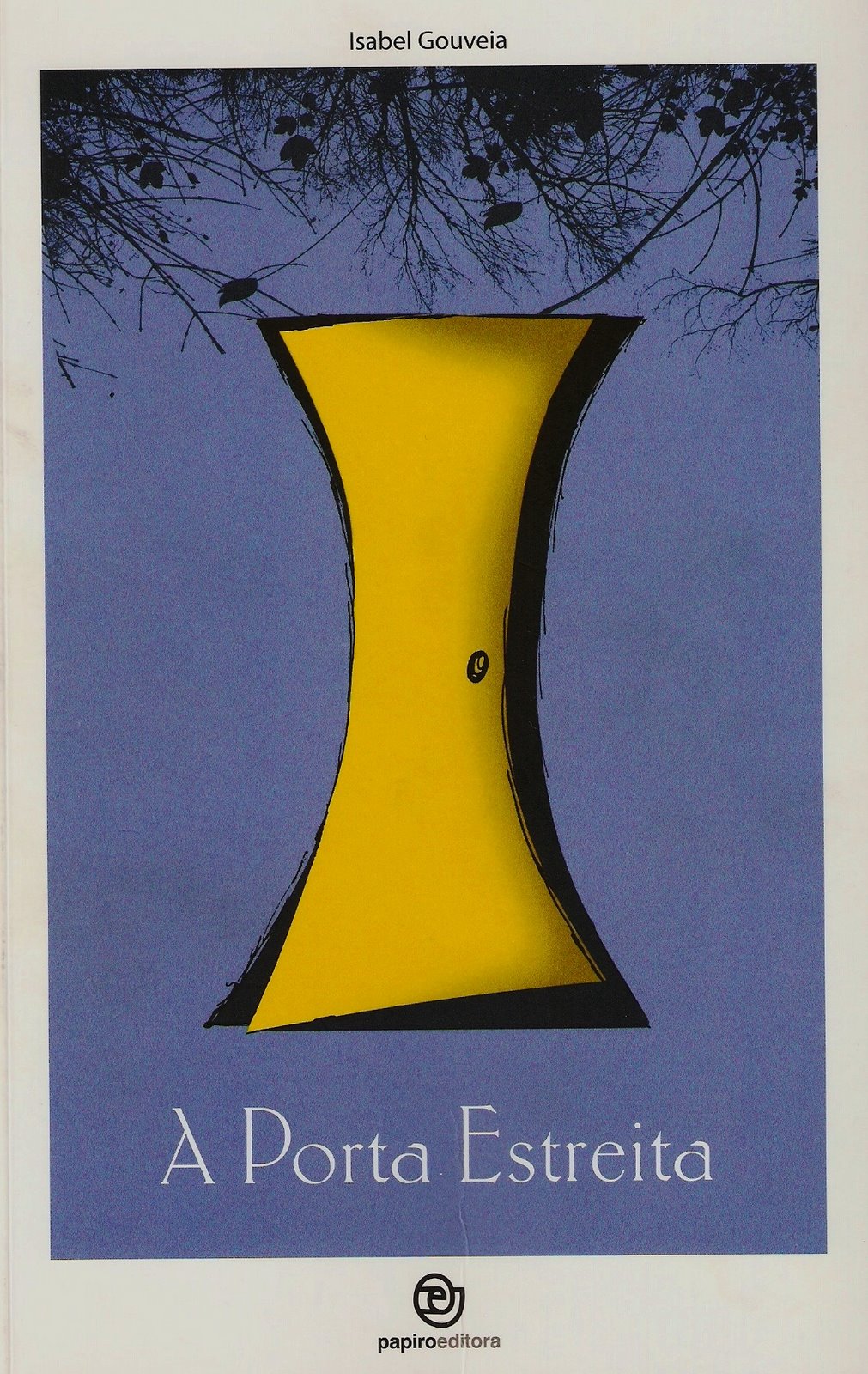





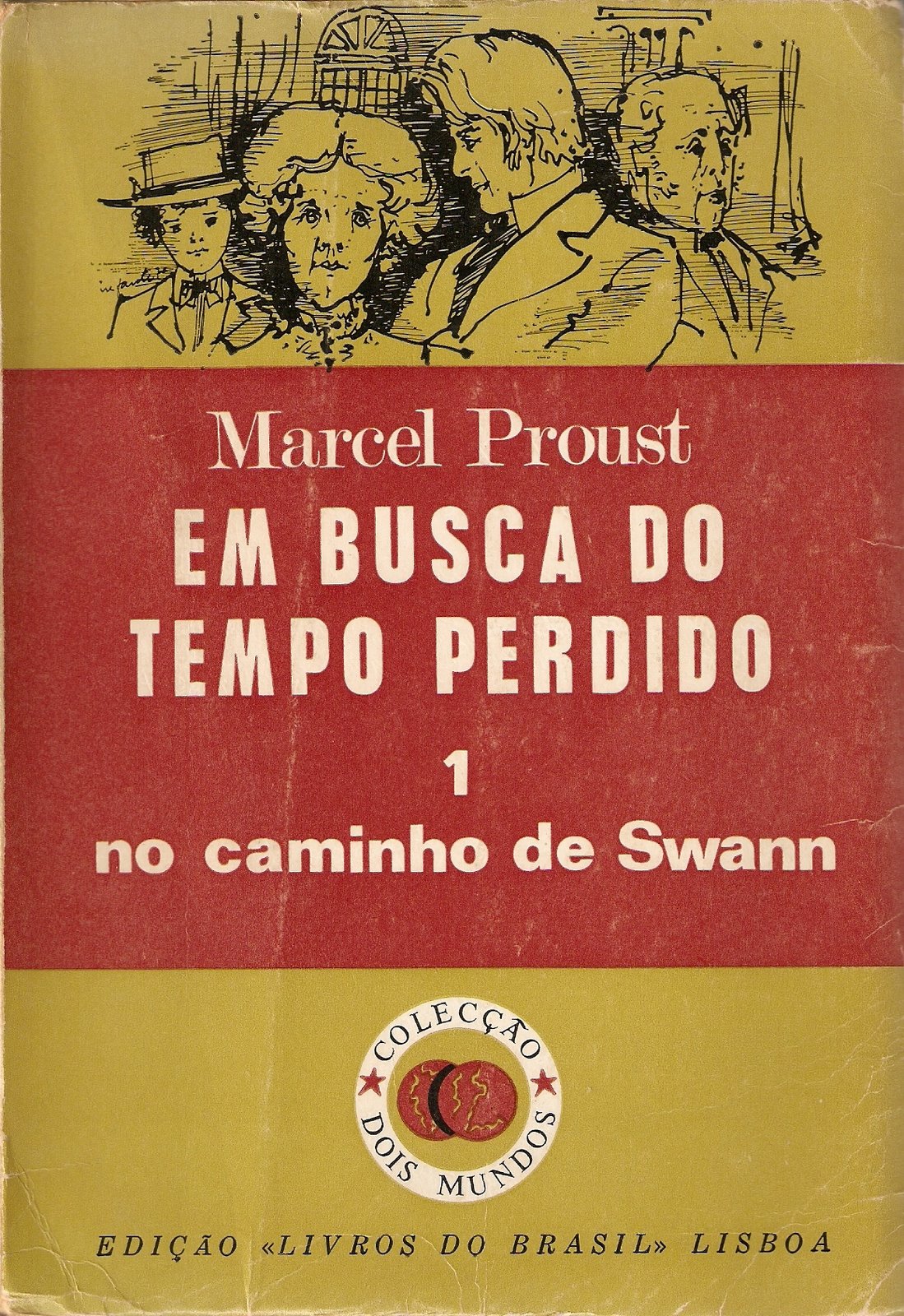


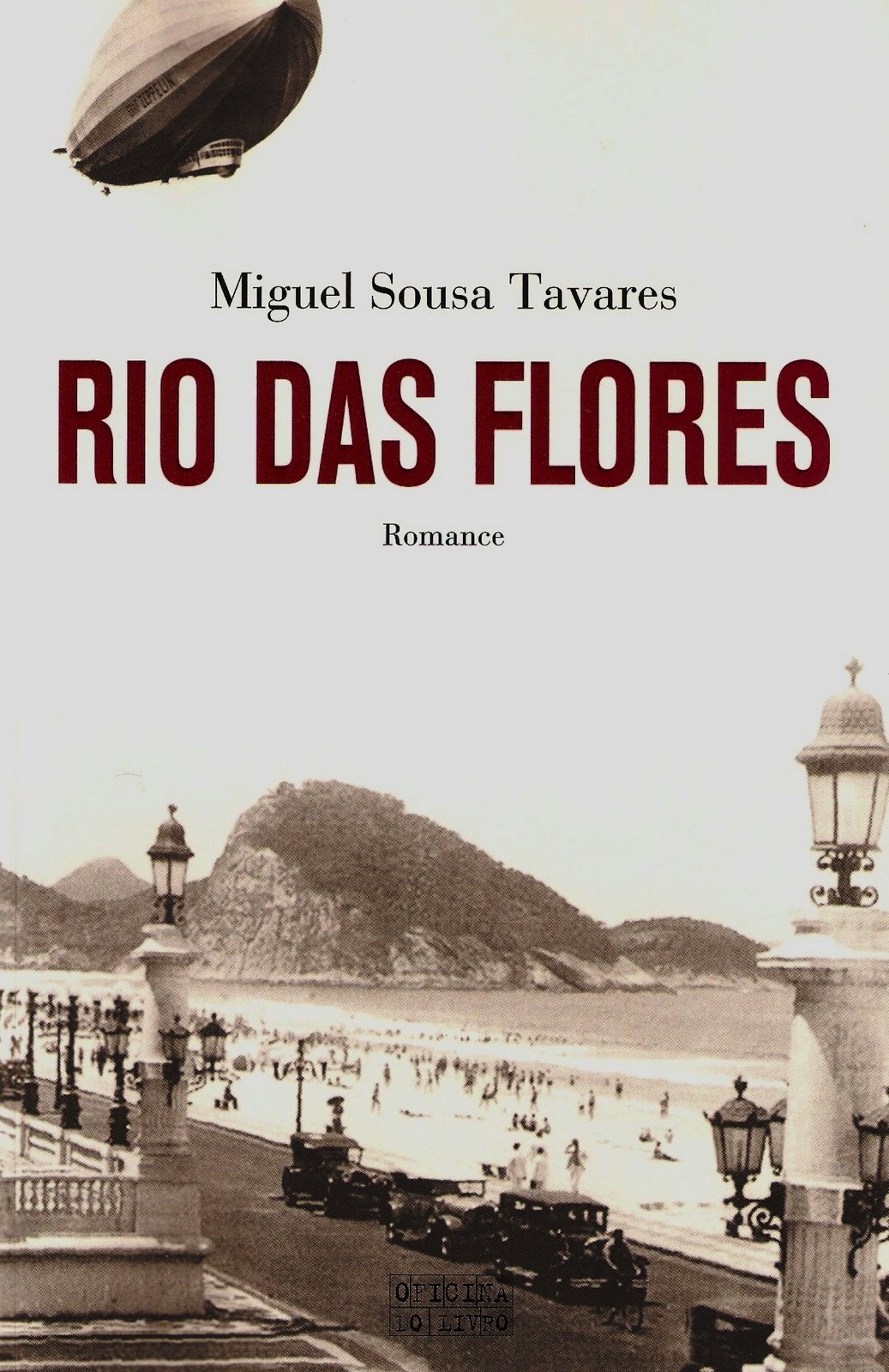


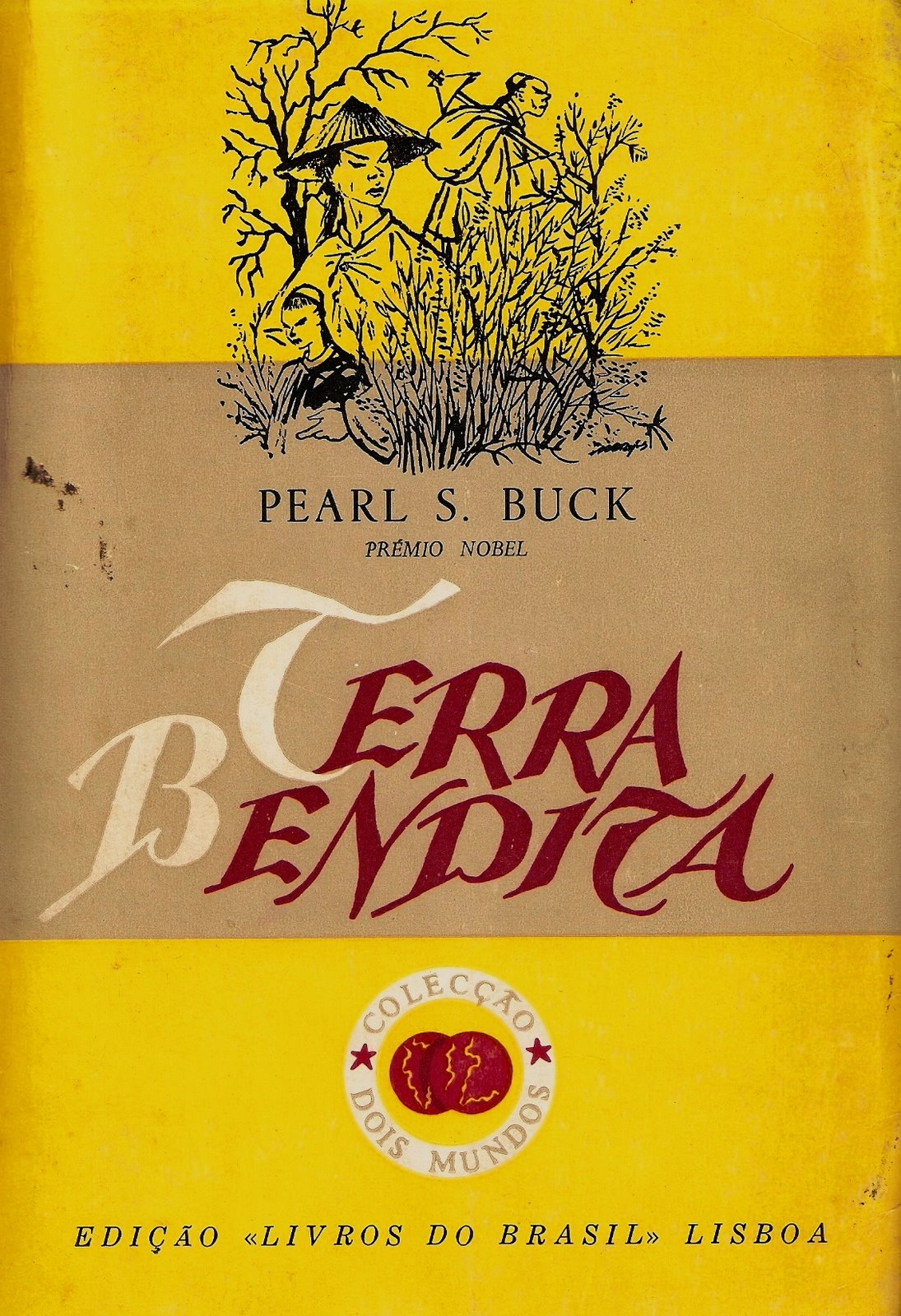
+2006.jpg)


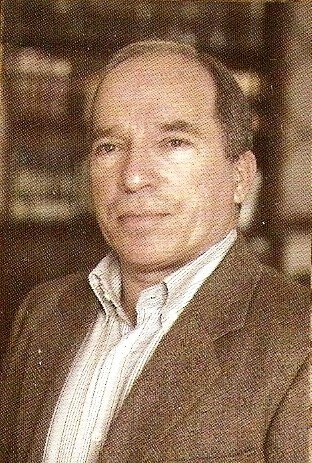

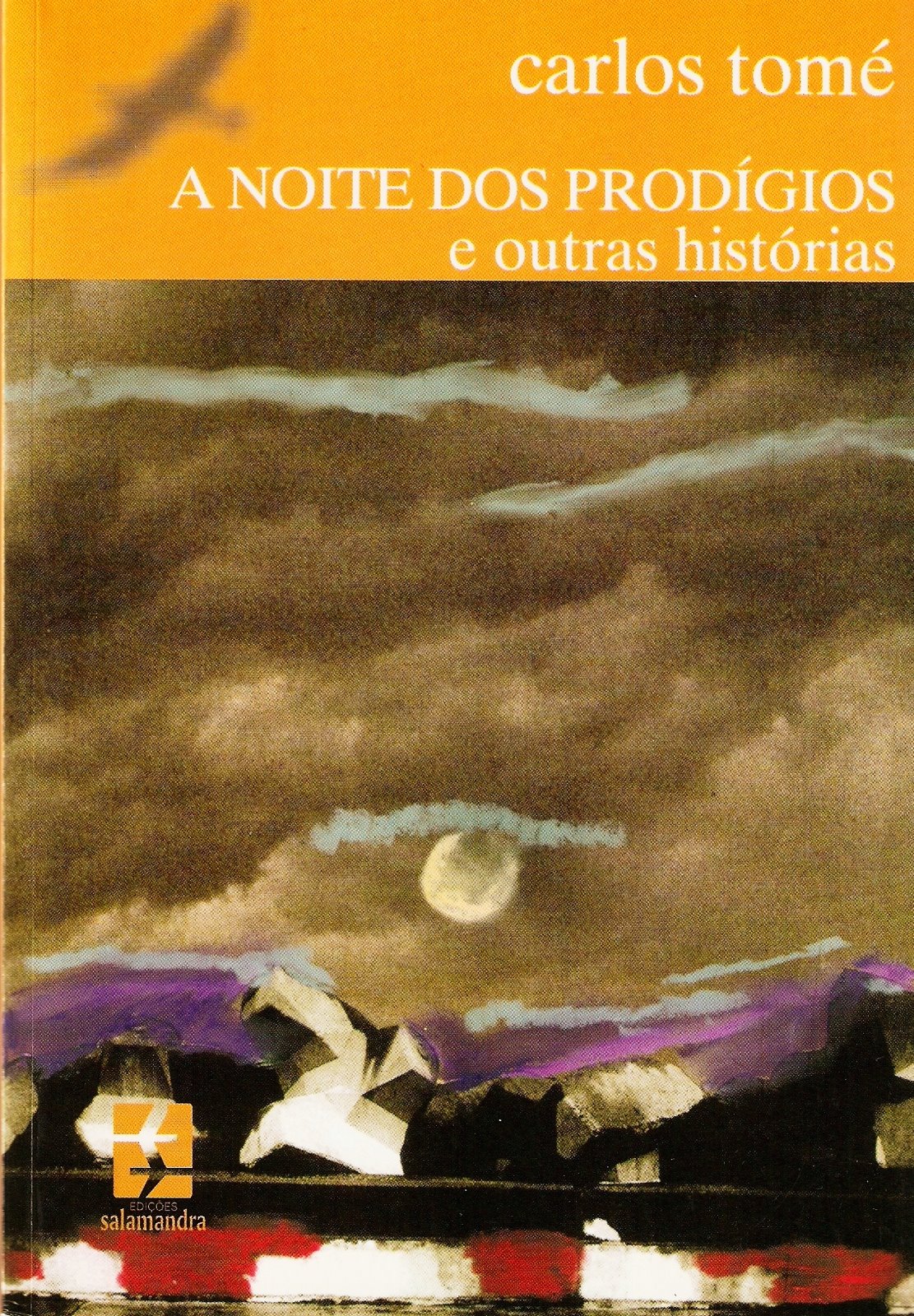


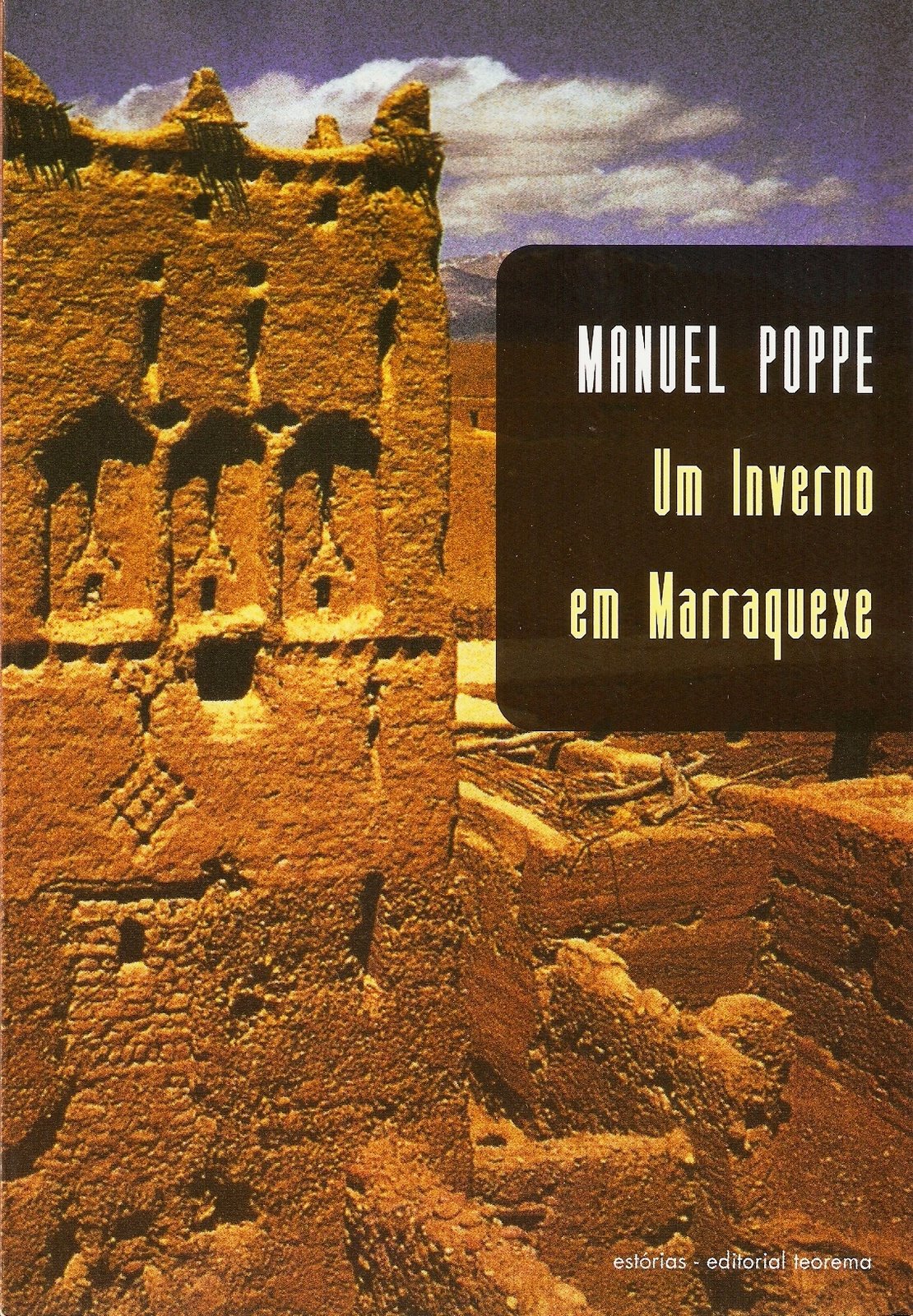

.jpg)